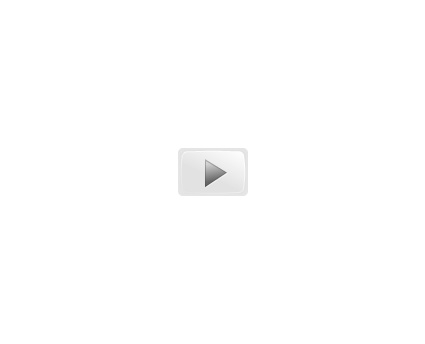A vida corrida da cidade grande muitas vezes nos impede de enxergar o outro. Estamos quase sempre tão apressados que acabamos por nos tornar egocêntricos. Um único momento, porém, que pararmos para observar à nossa volta, certamente nos surpreenderemos com as histórias que desfilam estampadas em cada rosto nas movimentadas avenidas, nas intermináveis filas do banco ou nos vagões lotados do trem. Foi uma dessas histórias marcantes que mudou minha vida e abriu meus olhos para o fato de que as pessoas são muito mais do que parte de um cenário que compõe uma metrópole como São Paulo.
A vida corrida da cidade grande muitas vezes nos impede de enxergar o outro. Estamos quase sempre tão apressados que acabamos por nos tornar egocêntricos. Um único momento, porém, que pararmos para observar à nossa volta, certamente nos surpreenderemos com as histórias que desfilam estampadas em cada rosto nas movimentadas avenidas, nas intermináveis filas do banco ou nos vagões lotados do trem. Foi uma dessas histórias marcantes que mudou minha vida e abriu meus olhos para o fato de que as pessoas são muito mais do que parte de um cenário que compõe uma metrópole como São Paulo. Fazia vinte anos que eu trabalhava na Estação da Luz. O cotidiano agitado daquela velha estação de trem era fatigante. Milhares de pessoas passavam por ali todos os dias. A bilheteria, sempre lotada, consumia meu tempo e minhas forças. O período de descanso era curto e destinado unicamente ao almoço, que trazia pronto de casa, para economizar o vale-refeição. Sabe como é, vida de pobre é assim: faz-se de tudo para poupar uns trocados e tentar encher o carrinho no supermercado. Casado, com dois filhos, morava na Vila Prudente, numa casinha erguida com muito suor e com a ajuda de minha esposa, que costurava para fora. O que ganhava era pouco, mas ao menos era dinheiro certo.
Havia na estação uma senhora que passava o dia sentada num banco, como a esperar um trem. Estava ali há mais de cinco anos. Todos a chamavam de louca, mas eu me limitava a ignorá-la. Durante todo esse tempo, muitos boatos surgiram entre os funcionários a respeito daquela mulher. Hipóteses das mais diversas foram levantadas sobre sua história de vida, entretanto ninguém jamais ousou aproximar-se dela. Quando um ou outro colega perguntava minha opinião, respondia que tinha muito mais coisas a me preocupar e que pouco me importava se era uma prostituta ou a rainha da Inglaterra.
Tempos mais tarde, acabei cedendo à curiosidade. Num daqueles dias em que estamos mais interessados em bisbilhotar a vida alheia do que em trabalhar, a imagem daquela mulher não me saía da memória. Durante o almoço, passei alguns minutos a observá-la. Era uma senhora de seus setenta anos, cabelos grisalhos e longos, um tanto alta e magra. Usava um vestido velho de chita e trazia consigo uma bolsa. Passava quase todo o tempo sentada no banco, mas, de quando em quando, levantava-se e punha-se a andar de um lado para o outro. Depois, voltava e se assentava novamente. Por um instante, tirou da bolsa um papel que aparentava ser uma carta e debruçou-se na leitura, porém não demorou a guardá-lo outra vez.
Terminado o meu horário de almoço, voltei ao trabalho, mas parecia ainda mais interessado na história da mulher. Passei a tarde imaginando mil e uma coisas, entretanto nada comentei com os colegas. Não queria que ninguém soubesse desse meu súbito interesse por aquele caso. Foi difícil até me concentrar no trabalho, pois minha mente já estava tomada pela curiosidade. Estava decidido a buscar uma aproximação e, quem sabe, conversar com ela. O tempo, porém, parecia custar a passar, o que me deixava apreensivo. Temia não a encontrar quando saísse da bilheteria. Era um temor sem motivo, porque sabia que, na verdade, ela não sairia de lá. Mesmo assim temia.
Enfim, os ponteiros do relógio cravaram cinco horas, e pude sair à procura de respostas às minhas indagações. Desci rapidamente as escadas de acesso à plataforma, buscando com meus olhos identificá-la no meio da multidão que entrava e saía do trem, naquele horário de tanto movimento. Só depois que o trem partiu é que a avistei, sentada no mesmo banco, que já era tão seu, balbuciando algumas palavras aparentemente sem nexo. Cuidadosamente me aproximei e sentei ao seu lado. Passei ainda alguns instantes calado, sem saber como iniciar uma conversa, até que tomei coragem e iniciei o diálogo.
–– A senhora está esperando um trem?
–– Aqui tem mais gente que trem, moço.
–– Ah, então está à espera de alguém?
–– Meu marido pediu para que eu esperasse aqui.
–– E a senhora não tem outros parentes, não?
–– O senhor é da polícia, é?
Aquela pergunta deixou-me tão sem jeito que, aproveitando a chegada de um trem, levantei-me imediatamente e embarquei. Fui o trajeto todo pensando na situação daquela senhora. Estava ali há tanto tempo. Será que tinha onde dormir, o que comer? Um raro sentimento de piedade começou a brotar em mim, mas logo me refiz e voltei à minha condição de homem embrutecido pela dureza da vida. Não tinha nada que me preocupar com uma velha louca, que estava há cinco anos esperando um marido que eu nem sabia se existia mesmo. Havia muitos problemas que necessitavam de solução urgente, e eu ali a desperdiçar meu tempo com essas histórias!
Desci do trem na Estação São Caetano e fui andando para casa. Os trinta minutos de caminhada eram já habituais, mas sempre aproveitava para refletir um pouco sobre minha vida. Lembrei-me de meu pai. Ele morrera de câncer há alguns anos. Estava muito doente, porém não tínhamos como pagar um hospital particular, e o público não tinha vagas para internação. Morreu em casa mesmo, contando somente com nosso carinho e apoio. Gastamos tanto com remédios que até hoje ainda luto para pagar as dívidas. Estava preocupado, também, com os estudos dos meninos; estudavam em escola pública, mas era janeiro e tinha uma extensa lista de material escolar que deveria ser comprado. É, a situação não era das melhores!
Cheguei em casa exausto. Minha esposa indagou-me por que a demora, afinal já eram quase oito da noite. Disse-lhe que havia ficado de conversa com um colega de trabalho e não percebi o tempo passar. Ela resmungou um pouco, deixando-me impaciente. Nada que um bom banho não resolvesse. Ao sair do banheiro, parecia estar mais leve, menos irritadiço, e pudemos, então, jantar tranqüilamente em família. Os meninos foram-me por diversão após o jantar, enquanto tentávamos montar um quebra-cabeça que lhes havia dado de presente no natal. Não demorou e já era hora de dormir. O despertador tocaria às seis da manhã, tirando-me da cama para mais um dia de trabalho.
Deitei-me ao lado de minha esposa e dei-lhe um abraço, como quem pede desculpas. Recebi dela um beijo que me pareceu selar as pazes. E assim, abraçadinhos, passamos um bom tempo. Eu tentava dormir, no entanto a mente teimava em ocupar-se com pensamentos desnecessários. Era a história daquela senhora que me atormentava de novo. Virei de um lado a outro da cama, mas definitivamente não conseguia dormir. O corpo cansado exigia um descanso; a mente rebelde, porém, insistia em desobedecer. Quando enfim peguei no sono, fui acordado com o barulho irritante do despertador.
Levantei sonolento, tomei o café que minha esposa preparou, peguei a marmita para o almoço e fui trabalhar. Aquela sexta-feira não começou muito bem, mas pelo menos era o último dia de trabalho da semana. Na bilheteria da estação, o tempo andava num ritmo amuado, enquanto o trabalho se dava de modo cansativo. Era um dos dias de maior movimento na Luz. Durante o almoço, fui tentado a espiar a velha senhora, mas consegui conter minha curiosidade, o que não aconteceu quando o expediente deu-se por encerrado.
Não foi fácil vencer a vergonha, depois da frustrada tentativa de aproximação do dia anterior. Fiquei, primeiramente, observando-a de longe e preparando uma forma de iniciar a conversa sem inibi-la, como ocorreu antes. Era, de fato, uma situação delicada, mas precisava matar minha curiosidade, e não haveria nada que me impedisse de fazê-lo. Por isso, tomei a iniciativa de me aproximar e puxar conversa.
–– Boa tarde! Quero lhe pedir desculpas por ontem. Estive aqui conversando com a senhora, mas acabei por ir embora sem me despedir, lembra?
–– Lembro. O moço da polícia...
–– Não, eu não sou da polícia. Na verdade, sou alguém que está preocupado com a senhora. Não precisa ter medo, pode confiar em mim.
–– Tem palavra, moço, que a boca da gente inventa só pra confundir a cabeça.
Querendo me desviar daquela afirmação tão contundente, imendei a conversa, de supetão, com outra pergunta.
–– Como é seu nome?
–– Antonieta.
–– Faz tempo que a senhora espera seu marido?
–– Pra mais de cinco anos.
–– Onde a senhora dorme e faz as refeições?
–– Como o que um ou outro passageiro me dá e durmo aqui mesmo, neste banco. Não conheço ninguém na cidade, a não ser meu marido.
–– Seu marido ainda vem?
–– Um dia ele vem!
–– Às vezes, vejo a senhora com uma carta na mão. É do seu marido?
–– Não. É uma carta que escrevi a meu filho. Meu marido o tirou de mim ainda muito novinho e veio pra cá. Depois de muitos anos, ele escreveu para uma vizinha dizendo que eu viesse ver meu filho e mandou que esperasse aqui.
–– Posso ler a carta?
Ela retirou da bolsa aquele papel amarelado e entregou-me com um cuidado de quem teme ser roubada. As letras mal traçadas e os vários erros gramaticais não diminuíam o amor materno que me levou às lágrimas ao término da leitura. Na carta, ela dizia ao filho que não se preocupasse, pois não iria deixá-lo como bezerro desmamado. Dizia ainda que o amava e que amor de mãe não mede tempo nem espaço. Emocionado com aquelas palavras que nunca escutara na vida, não contive o choro. Meu pai falava pouco de minha mãe; dizia que ela havia morrido no parto e que eu era a única coisa boa que deixara.
Tomado por um sentimento de filho que me invadiu o peito naquele instante, convidei-a para passar o fim-de-semana em minha casa. Ela, porém, disse que não poderia, pois tinha de esperar o marido. Disse-lhe, então, que seu marido não viria mais. Essa revelação deixara dona Antonieta em completo desespero, uma vez que a esperança de reencontrar o marido e o filho era o que a impulsionava a viver. Ela se apegara ao tênue fio da esperança para não cair no abismo da esquizofrenia, e agora eu o havia partido de vez. Seu silêncio só foi quebrado com a resposta positiva ao meu convite, mas logo foi retomado.
Fomos calados até em casa. Quando cheguei, contei toda a história à minha esposa, e ela também se comoveu. Conseguimos um colchão e umas roupas usadas com a vizinha. Dona Antonieta tomou banho, como há muito não fazia, e jantou conosco à mesa. Não deu uma palavra durante o jantar, mas bastava olhar o seu rosto para perceber que o abatimento e a desilusão se faziam presentes. Colocamos o colchão em que dormiria no quarto dos meninos. Antes de deitar-se, porém, ela agradeceu a hospitalidade, deu-me um abraço afetuoso e disse que toda mãe gostaria de ter um filho assim. Eu, emocionado, disse-lhe que todo filho também gostaria de ter uma mãe como ela. Fui dormir ainda com a doce sensação daquele abraço materno que me enchia de uma felicidade indescritível.
No dia seguinte, acordei tarde, afinal era sábado e precisava descansar após uma semana intensa como aquela. Dona Antonieta ainda dormia; deveria estar mesmo muito cansada. À hora do almoço, resolvi acordá-la, chamando-a da porta do quarto. Ela, entretanto, não esboçou reação. Entrei no quarto, aproximei-me e chamei-a, sacudindo-lhe o braço. A velha senhora estava morta, e eu nada poderia fazer para acordá-la. Refeito do susto, decidi, então, vasculhar sua bolsa à procura de documentos que pudessem ser úteis para conseguir um atestado de óbito, mas qual não foi a minha surpresa? Lá estavam a identidade, a certidão de casamento e a certidão de nascimento do filho. Custei a acreditar no que os meus olhos viam. Aquele foi, certamente, o momento mais importante da minha vida. Na verdade, seu nome era Aurora; seu marido se chamava Pedro; e seu filho era eu.